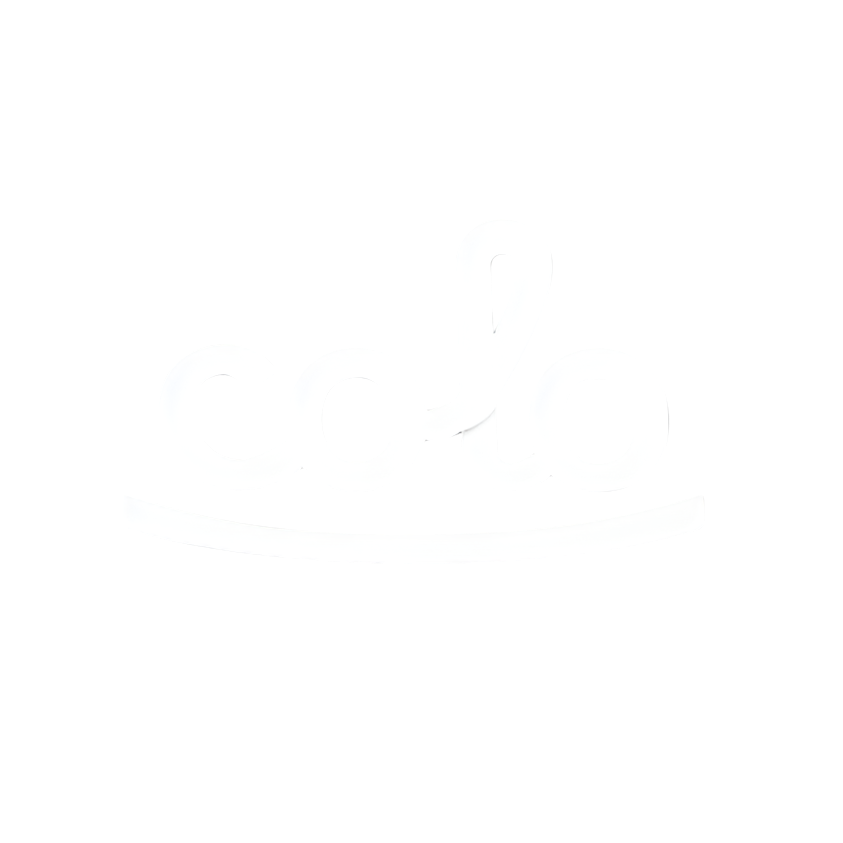O que há nas bordas da caixa preta e do cubo branco
No início do século XX, o esforço dos teóricos da arte em prescrever uma ontologia particular do cinema passava também pela construção e consolidação de um espaço de visionamento ideal dos filmes que ficou conhecido posteriormente como black box (caixa preta). No período do “primeiro cinema”, que compreende do final do século XIX até o início dos anos 10, o que predominava em termos de produção estava muito mais próximo da performance e do espetáculo multidisciplinar do que do longa-metragem narrativo. Na verdade, rever as origens do cinema enquanto tecnologia de produção e difusão das imagens animadas nos levaria a diversos campos de aplicação científica e a usos do aparato técnico não associados ao entretenimento. Ainda assim, na sua dimensão de arte popular, esse primeiro cinema recorria muito mais à uma ideia associada ao espetáculo de variedades ou de “atrações”, pra tomar emprestado o termo cunhado por Tom Gunning, do que à narrativa enquanto meio de codificação de dados para contar histórias de ficção.
Parte desse esforço em alçar o cinema ao patamar das outras artes residia no fato de que ele era, na sua primeira prática, uma manifestação artística predominantemente popular. A transição desse primeiro cinema de atrações (que não era narrativo e cuja diegese expandida iria encontrar, inclusive, vários paralelos com a produção da vanguarda) para o modelo do longa-metragem de ficção teve, portanto, motivações ideologicamente conservadoras, além de estar ancorado em ambições comerciais dos grandes estúdios, que passaram a deter o monopólio não só da produção como da exibição dos filmes nas salas de cinema.
Quando fala do poder de mobilização das massas que é próprio do cinema na era da reprodutibilidade técnica das imagens, Walter Benjamin (2015) faz alusão à experiência coletiva e interativa dos filmes em oposição à fruição “individualizada” e contida das artes plásticas. Ele argumenta, inclusive, que uma das questões aludidas pelos teóricos conservadores quando afastam o cinema das belas artes está ancorada justamente num desprezo pelas massas e pelas novas formas de incidência da arte.
Encontramos aqui a velha acusação de que as massas buscam distração, enquanto a arte exige recolhimento por parte do espectador. Vale perguntar se eles oferecem uma boa perspectiva a partir da qual possamos entender o cinema. É necessário examinar melhor a questão. Distração e recolhimento estão em polos opostos, o que permitiria a seguinte formulação: aquele que se recolhe diante da obra de arte nela mergulha; desaparece nela, como nos conta a lenda do pintor chinês diante do seu quadro recém concluído. No caso da diversão, ao contrário, é a obra de arte que penetra nas massas. (BENJAMIN, 2015. p.32)
O exercício do pensamento de Benjamin tem como intuito pôr em evidência o valor social da obra de arte e instrumentalizá-la politicamente na luta contra o fascismo, e o seu contributo teórico, outrossim, parece-me especialmente útil para pensar nos regimes de espectatorialidade e nos códigos que atribuímos aos espaços que relegamos à arte. Quando coloca a pintura em oposição ao cinema, ele se refere não só às diferenças essenciais de captação e representação do mundo sensível em ambas as técnicas, mas principalmente à suposta vantagem do cinema pelo seu alto valor de exposição e mobilização popular, ultrapassando a experiência “solitária” do museu. “A pintura não é capaz de oferecer um objeto próprio para a recepção coletiva, como sempre foi o caso da arquitetura e da epopeia no passado. Essa é a situação do cinema hoje”. (Benjamin, 2015. p.28).
Dessa forma, a construção e consolidação da sala de cinema como espaço ideal de visionamento dos filmes não se dá por acaso nem acontece de forma espontânea, ela é fruto de um arranjo engendrado de influências da recém consolidada indústria cinematográfica com os anseios de validação do cinema enquanto arte autônoma.
Tal como o teatro de palco ilusionista, o cinema, em sua condição de local, é estritamente dividido entre a sala e a tela, sendo esta concebida como uma janela aberta para uma profundidade fictícia, o que explica, aliás, por que a pintura foi, desde a origem, e continuou a ser por muito tempo, o horizonte estético do cinema; a sala, construída segundo um único ponto de vista convergente, é ocupada por fileiras de assentos em patamares, nos quais os espectadores se mantêm imóveis; por último, tal como uma encenação teatral, a sessão de cinema tem começo e fim, e foi assim que, ao longo do século XX, o longa-metragem de ficção, isto é, o cinema narrativo, permaneceu como a forma cinematográfica dominante. (MICHAUD, 2014, p.23).
O paradigma desse espaço, conhecido como black box, estabeleceu historicamente um contraste de oposição diametral com o white cube, modelo ideológico/expositivo amplamente difundido em museus e galerias com o advento da arte moderna. Com efeito, no interior da caixa preta temos um local cujas regras de funcionamento pressupõem a imobilidade física do espectador que, confinado em sua poltrona, tem a atenção voltada para a tela enquanto é bombardeado por estímulos sonoros que irradiam de todos os lados. Esse tipo de olhar espectatorial fixo e “descorporificado” atuaria no sentido de transportar o sujeito para dentro da ação diegética, ou seja, para o outro lado da tela transparente, deslocando-o do tempo presente para o tempo não localizável da narrativa.
Em contraponto, o espaço fartamente iluminado do white cube pressupõe uma autorreflexividade não só do olho como do corpo do espectador enquanto superfície sensível, estabelecendo um modelo que privilegia o contato direto com as obras numa temporalidade de fruição que será ditada pelo próprio sujeito e não imposta unilateralmente pelo espaço. O conjunto de códigos e convenções que esses espaços estabelecem no seu contrato invisível com o público, convém lembrar, são historicamente mutáveis e, por conseguinte, variam de acordo com seu contexto local de incidência. Ainda assim, quando os observamos com certo distanciamento histórico — e em seus parâmetros gerais de funcionamento —, não deixa de ser curioso perceber a forte tendência de fusão desses dois modelos de exposição na prática contemporânea a partir dos anos 60, criando assim uma espécie de território cinzento onde um novo tipo de espectatorialidade pode emergir.
Rever a história do cinema como disciplina arqueológica implica procurar não só pelos pontos de continuidade e convergência, como por exemplo a insistência no mito originário de que todas as transformações estéticas e tecnológicas do dispositivo cinematográfico tiveram como finalidade última o aperfeiçoamento da sua modalidade dominante: o longa-metragem narrativo de ficção. Na verdade, uma nova postura de revisionismo exige o gesto contínuo de busca por pequenas fissuras e rupturas epistemológicas, localizando vestígios do que foi recalcado pela história oficial. A ascensão e predominância do modelo da caixa preta durante o século XX, em oposição ideológica ao white cube, fez com que outros locais de incidência do cinema e seus respectivos modos de espectatorialidade ficassem na sombra por bastante tempo. O caso do primeiro cinema é paradigmático nesse sentido, pois tanto na sua concepção de imagem quanto na sua forma particular de incidência/interação com o público, ele se distancia radicalmente das categorias normativas que aprendemos nas disciplinas clássicas.
Em Cinema como arqueologia das mídias (2018), Elsaesser analisa o período do primeiro cinema e propõe algumas releituras históricas a partir das quais será possível pensar no atual estado da arte cinematográfica. Uncle Josh at the moving Picture show é um filme curto de 1902 dirigido por Edwin S. Porter. Estruturado como metafilme, o curta apresenta um homem num teatro de variedades durante uma projeção de cinema. Inicialmente sentado no camarote, ele se vai se aproximando da tela conforme reage às imagens projetadas: tenta agarrar uma dançarina por quem se sente atraído, se assusta com um trem vindo em sua direção, enfim. Ao final do curta, ele tropeça na tela apenas para descobrir que havia um projecionista operando as imagens por trás dela o tempo inteiro. Elsaesser apelida esse tipo de filme de “cinema caipira” e chama atenção para a natureza das reações exageradas que o primeiro cinema causava no espectador. Filmes caipiras como o do Tio Josh exerciam a dupla função de entreter, dado o seu teor de comédia e de escárnio, e de promover uma autorreflexão disciplinada do público, que via-se implicado nas ações do personagem.
Uncle Josh at the moving Picture show (1902) - Edwin S. Porter
Há certamente uma grande dose de exagero quando se fala do espanto e das reações histéricas causadas pelos primeiros filmes, que gerariam dificuldade nos espectadores em assimilar a imaterialidade da projeção. Dentro desse folclore urbano podemos incluir o gesto de interação tátil do tio Josh e o efeito rebote de fuga em massa causado por A chegada de um trem na estação, dos irmãos Lumière. O fato é que o tipo de diegese estabelecida pelos filmes do primeiro cinema, não estando filiados às tradições da narração clássica, ecoava pelo espaço físico da sala e gerava um tipo reação/engajamento particular que se perdeu na dimensão tradicional do cinema ao passo que o público médio foi se acostumando com o paradigma dominante da caixa preta.
De forma geral, o conceito de diegese é formalmente aplicado ao cinema narrativo e atende, conceitualmente, às regras e leis de funcionamento interno estabelecidas por um filme, a sua realidade particular, em suma. Por exemplo: se um som é emitido por um piano dentro (ou eventualmente fora) dos limites do quadro fotográfico, esse som é diegético. Se um som é oriundo de uma fonte externa não localizada no universo imaginário do filme, ele é extradiegético. Se extrapolarmos os limites do conceito e o encararmos num sentido que ultrapassa a ideia de narração (além, é claro, da sua dimensão sonora), perceberemos que: “principalmente o período da década de 1910 tem apresentado uma riqueza de materiais para a ideia de uma diegese expandida em relação à narração e ao comentário, ao espaço da tela e ao espaço do auditório, mas também em relação à reflexividade e à autorreferência” (ELSAESSER, 2018. p.95).
O que Elsaesser revela com esse comentário é que a noção de diegese não precisa estar necessariamente submissa à dimensão narrativa do filme, e que é possível a criação de um mundo coerente e integrado por uma correlação dinâmica entre matéria fílmica, espaço de exibição e público, apontando para “a materialidade do lugar e a localização de uma rede de relações ligando locais de produção aos de exibição” (ELSAESSER, 2018. p.96). O que conectaria um filme caipira como “Uncle Josh”, a prática do primeiro cinema e o cinema contemporâneo - que desliza entre a black box e o white cube - é justamente essa ideia de diegese expandida e as suas múltiplas possibilidades de agenciamento do espectador autorreferido, cujo olho e corpo se impõem tanto como interface de participação como obstáculo a ser atravessado.
Logo na abertura do livro Between the black box and the white cube - expanded cinema and postwar art (2014), o autor norte-americano Andrew Uroskie faz alusão à instalação The paradise institute (2011) da dupla canadense Janet Cardiff e George Bures Miller. Por motivos bastante óbvios, esse trabalho se transforma num modelo chave pra pensar na desterritorialização do cinema por tratar-se, literalmente, de uma superposição da caixa preta no cubo branco. A instalação funciona da seguinte forma: num caixote construído em compensado de madeira, temos uma sala de cinema com apenas duas fileiras de poltronas em patamares distintos. No espaço reservado para a tela, há também um diorama com inúmeras outras poltronas em miniatura, dando a ilusão óptica de que as duas fileiras em tamanho real estão localizadas, na verdade, num balcão ou camarote. Ao contrário de uma sala tradicional, onde o som é emitido por colunas lateralmente (e/ou frontalmente) posicionadas, aqui são fornecidos headphones individuais. Não há indicativo luminoso para a saída da sala e, uma vez que a performance começa, o espectador permanece enclausurado até o fim da projeção.
The Paradise Institute (2011) - Janet Cardiff e George Bures Miller
The Paradise Institute (2011) - Janet Cardiff e George Bures Miller
Ainda no início da apresentação, ruídos extradiegéticos de pessoas conversando podem ser ouvidos nos headphones e misturam-se com os sons intradiegéticos do filme projetado, que apresenta um homem hospitalizado aos cuidados de uma enfermeira, estabelecendo assim um efeito de diegese expandida que se articula entre elementos que se espalham no espaço da projeção, na localidade física da sala e na recepção coletiva dos espectadores. Esses diálogos paralelos, que povoam a dimensão sonora da instalação, não estão muito distantes do que ouvimos normalmente em sessões de cinema: tratam-se de telefones celular tocando, sussurros descrevendo aspectos do filme em tempo real, mas também tópicos flutuantes sobre assuntos desconexos. Essas intervenções sonoras assinalam o caráter duplamente artificial da performance e chamam atenção para o fato de que não apenas estamos assistindo a um trabalho não comprometido com um registro realista, como o estamos fazendo imersos num regime de códigos e convenções específicas que buscam regular as percepções do olho e do corpo.
A tomada de consciência para a artificialidade do dispositivo em The paradise institute já está assinalada desde o primeiro momento com a estranha presença do diorama, que distancia o corpo do espectador da tela e do palco onde a performance irá se desenrolar, delimitando uma fronteira clara. O sujeito se transforma assim, num primeiro plano, em uma espécie de observador exteriorizado. Nesse sentido, o agenciamento e o poder de imersão da obra não se dá por meio de um registro realista que convida a um mergulho na tela transparente, uma vez que não são oferecidas nem condições físicas para tanto nem uma narrativa tradicionalmente construída. Não há aqui nenhuma confusão na separação entre o que é real e o que é ficcional, pois se sabe de pronto que tudo é ficção. Esse aparato ficcional, no entanto, não é bem delimitado nem tem sua coerência submetida a um fio narrativo: ele é múltiplo e fraturado (2014, p.4). A instalação aposta, com efeito, num potencial de imersão e de autorreferência que só é possível obter a partir de um registro nomeadamente opaco.
A ausência de uma sinalização luminosa para a porta de saída ajuda a realçar o contraste entre o enclausuramento do espaço interior (caixa preta) e a mobilidade do exterior (cubo branco), quase como se Cardiff e Miller estivessem desenhando didaticamente numa tabela os diferentes tipos de efeito-sujeito constituídos pelos locais do cinema e do museu, amplificando ao máximo as sensações de clausura e de fixidez. Em The Paradise Institute, essa ambivalência constitutiva nos dá subsídio para pensar no choque dos dois paradigmas de recepção não apenas a nível de oposição rigidamente demarcada, mas também enquanto possibilidade de integração orgânica.
Para Elsaesser (2018, p.124), a economia do tempo investido na fruição de uma obra no cinema e no museu configura, além dos seus arranjos visuais e arquitetônicos conceitualmente antagônicos, numa das principais diferenças entre os dois locais. Por mais simples que seja erguer paredes móveis e pendurar cortinas para projetar imagens animadas, a postura que se supõe de um espectador no museu é diferente da que se espera de um espectador no cinema. Poderíamos evocar novamente Benjamin (2015) quando se referiu ao recolhimento e à autorreferência em contraste com a distração e o entretenimento na apreensão das obras de arte. Nesse espírito de crítica aguçada, não se trata aqui de reforçar a tese excludente de que “no cinema se distrai” e no “museu se aprende”, mas de saber identificar as convenções historicamente construídas para esses dois locais.
Enquanto no cinema a tensão do olhar para a imagem se constrói numa disputa entre forças centrífugas (que atraem o olho para dentro da janela transparente e da diegese em si) e centrípetas (que revelam a opacidade da imagem e criam uma camada de autopercepção do espaço e próprio corpo), no museu a relação entre o que está dentro e fora do quadro (seja nas bordas do olho, do corpo ou da moldura da imagem) é explicitada a todo momento e tende a ser mais facilmente assimilada pelo espectador. Essa distinção essencial nos levaria a pressupor a demarcação de um efeito forte de temporalidade e de presença (um "aqui e agora”) no espaço do museu, ao passo que no cinema (UROSKIE, 2018, p.125) são produzidas múltiplas temporalidades e presenças (um “eu/não eu”, “aqui/não aqui” e “agora/não agora”).
Assim, o encontro do cinema e do museu obriga até a história da arte a repensar o lugar e o papel do observador diante do trabalho artístico, além de examinar os tipos de autodelimitação ou “exposição” proporcionadas pela imagem em movimento, não apenas pela exibição física (no monitor ou a tela), mas também pela maneira pela qual a aparência da imagem enquadra o olhar do observador no ambiente da galeria. (ELSAESSER, 2018, p.126)
Como poderíamos medir esse encontro em parâmetros que potencializassem a integração dos dois modelos, entendendo o que eles têm de organicamente complementar para além das suas antinomias? Com efeito, faz-se necessário lembrar primeiramente que ambos os dispositivos são construções historicamente mutáveis, em constante fluxo de renovação. O cinema, por exemplo, protagonizou durante o século XX várias transformações estéticas e tecnológicas cujos desdobramentos se radicalizam nos dias de hoje, face a revolução digital. Algumas dessas inovações consistiram na implementação do som direto nos filmes; na inauguração da perspectiva alargada com o cinemascope e com as projeções simultâneas; no aperfeiçoamento do sistema Dolby surround e na invenção da televisão e dos aparelhos de reprodução de mídia, pavimentando caminho para a miniaturização e desterritorialização das telas que nos perseguem hoje tanto nos territórios urbanos e espaços públicos como na vida privada, vide a aderência universal ao uso de aparelhos celulares, computadores, tablets, etc.
Dados como esses ajudam a embaralhar as fronteiras que delimitam as noções gerais de que no museu a recepção artística é predominantemente individual, enquanto que no cinema é majoritariamente coletiva. Agora que a imagem animada circula por tantas telas e espaços expositivos, o paradigma da caixa preta precisa também ter os seus parâmetros gerais reavaliados enquanto regime de espectatorialidade mutante. No mesmo sentido, a espetacularização da cultura museológica se radicalizou em tal nível que a ida ao museu, principalmente quando falamos de exposições blockbusters, se transformou numa experiência muito mais coletiva (com direito a multidões aglomeradas) do que solitária na contemporaneidade. Assim, poderíamos aludir ao encontro da caixa preta e do cubo branco como a consolidação de um espaço híbrido de recepção no campo da arte que confunde temporalidades e presenças diversas em suas dimensões individual e coletiva, pública e privada, preservando contudo as as disparidades idiossincráticas constitutivas de ambos os modelos.
Retomemos então a ideia da economia do tempo investido na fruição de uma obra de cinema no museu e na sala tradicional. Tomemos como ponto de partida o famoso trabalho de Douglas Gordon 24 hour Psycho (1993), obra na qual o artista retalha e reduz a minuetos a taxa de frames do clássico Psicose de Alfred Hitchcock, dilatando a sua duração original de 109 minutos para 24 horas. A temporalidade particular da obra jamais irá coincidir com a disponibilidade de investimento do espectador na sua visita à galeria, de forma que só será possível assistir a fragmentos (pelo menos em cada visita). Essa impossibilidade de apreensão total e a inevitabilidade dos sobressaltos e interrupções, que não precisam estar vinculados a casos tão extremos como o do trabalho de Gordon (um filme de duração menor pode gerar a mesma situação), gera um efeito de ansiedade e de suspensão que é próprio da instalação artística, criando uma “continuação crítica” do dispositivo cinematográfico não só porque subverte muitas vezes a orientação frontal da perspectiva renascentista típica do modelo de exposição clássico, atuando muitas vezes com projeções múltiplas e telas móveis, mas porque subverte o regime de temporalidade do cinema - no qual se sabe com antecedência o tempo com o qual irá se comprometer, associado a uma tradição de duração da imagem com começo, meio e fim - e do próprio museu, “na qual a quantidade de tempo que escolho despender diante de uma pintura ou escultura depende de minha própria decisão, desorganizada, e não é predeterminada pela obra” (ELSAESSER, 2018, p.128)
Na mesma toada, poderíamos evocar a incursão de Andy Warhol no cinema com o seu primeiro filme Sleep (1963), obra em que o artista plástico norte-americano documenta o seu amigo John Giorno dormindo durante cerca de cinco horas e meia. Concebido para ser exibido no formato de longa-metragem na sala de cinema e não como instalação artística no museu, as sessões públicas de Sleep não continham intervalos e a monotonia extrema do filme chegou a causar reações violentas na platéia, que abandonava a sala muito antes do final da projeção. A escolha deliberada de Warhol por um tipo de registro que evidenciasse a materialidade e dilatasse a duração dos fotogramas, capturados em longos planos-sequência estáticos (com intervenção mínima da montagem, que atuava para esconder loops sucessivos), poderia ser interpretada como uma provocação ácida ao regime de espectatorialidade estabelecido pelo cinema narrativo norte-americano da época, questionando também a própria natureza da relação que o espectador estabelecia consigo e com os outros enquanto assistia a um filme no interior da sala de cinema. Se em 24 hour psycho temos uma obra que não pode ser assistida em sua integralidade pela natureza peculiar do espaço que a abriga, essa disputa entre obra e local se radicaliza também em Sleep, entendendo que o filme desafia o espectador a permanecer imerso horas a fio enquanto produz estímulos dissonantes.
Warhol chegou a revelar em entrevista que não só não o incomodava como até o agradava a ideia de que as pessoas pudessem sair da sala durante a projeção dos seus filmes. Ele era simpático à noção de que o cinema podia gerar um tipo de percepção crítica que rompesse com a bolha da experiência autocentrada, causando reações de impacto no corpo coletivo. Ao passo que Sleep foi sendo absorvido pelas plateias, uma prática que ficou comum foi a de sair e retornar à sala de cinema durante a projeção: os espectadores assistiam ao filme por um período de tempo e saíam para o saguão dos cinemas, onde podiam se distrair e se desconectar, para apenas depois retornarem à sala, num processo que podia se repetir várias vezes, estabelecendo assim um regime de interrupções e sobressaltos. Dessa forma, a projeção perdia o seu valor de duração delimitada por um começo, um meio e um fim, já que agora poderiam haver vários começos, meios e fins. Essa experiência poderia colocar Sleep numa categoria próxima a de 24 hours Psycho, uma vez que o filme subverte totalmente o uso habitual da sala de cinema e distorce a temporalidade de apreensão do longa-metragem tradicional, configurando-o como um híbrido que nasce do encontro entre a caixa preta e o cubo branco.
Sleep (1963) de Andy Warhol
excerto de Locais do cinema: espectatorialidade e curadoria de Pedro Azevedo no âmbito do mestrado em estudos de arte pela Faculdade de Belas Artes de Universidade do Porto sob orientação do Prof. Dr. Tiago Assis.
Porto, dezembro de 2020