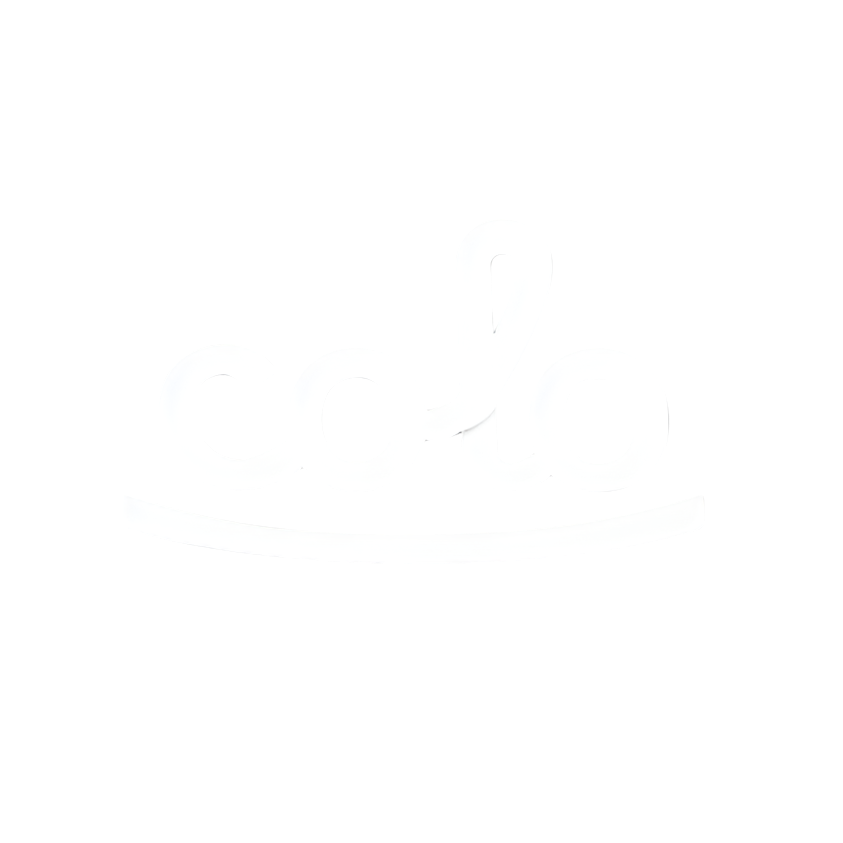o curador, o montador e o espectador
Em O espectador emancipado, Jacques Rancière (2019) lança reflexões importantes sobre a condição do espectador na atualidade, traçando paralelos entre educação, arte e política quando insinua que as fronteiras entre professores, alunos, artistas, espectadores curadores e obras devem ser menos delineadas. Ora, apostar numa cisão delimitada entre polos exclusivamente transmissores e receptores no campo da arte seria o mesmo que reproduzir a lógica embrutecedora da pedagogia mais anacronicamente conservadora que existe, uma vez que o artista é também espectador da própria obra, assim como o espectador tem no olhar corporificado um tipo de ação que foge a qualquer lógica de passividade. A emergência de um espectador crítico, cuja posição hierárquica se confunde com a do autor, pode nos levar a pensar também sobre o lugar de interstício que o curador de arte ocupa na qualidade de mediador de experiências, uma espécie de espectador/autor que (re)arranja novas narrativas e gera diferenças, num ofício cujo exercício deveria se opor à ideia de distanciamento acrítico e assimilação unilateral.
Antes de tudo, faz-se necessário entender, então, que no campo da prática artística o impulso que conduz autores e curadores à tentativa de reativar o espectador criticamente, devolvendo-o a ação que lhe fora usurpada, traduz-se quase sempre como um novo dispositivo de separação e sujeição porque pressupõe a legitimação de um jogo que coloca em lados diametralmente opostos o “ver” e o “fazer”. O espectador não será aquele que não faz nada, que recolhe-se placidamente enquanto ignora o conhecimento do mundo que se desenrola do lado de fora da performance artística, assim como também não necessitará ser transportado pro centro da ação para fugir de um estado de passividade. Rancière (2019) nos diz que a emancipação só será possível quando questionarmos a oposição entre o olhar e o agir, redistribuindo funções e posições na partilha do sensível (2018), embaralhando as fronteiras entre os que agem e os que olham.
Ser espectador não é a condição passiva que deveríamos converter em atividade. É nossa situação normal. Aprendemos e ensinamos, agimos e conhecemos também como espectadores que relacionam a todo instante o que veem ao que viram e disseram, fizeram e sonharam. Não há forma privilegiada como não há ponto de partida privilegiado. Há sempre pontos de partida, cruzamentos e nós que nos permitem aprender algo novo caso recusemos, em primeiro lugar, a distância radical; em segundo, a distribuição dos papéis; em terceiro, as fronteiras entre os territórios. Não temos de transformar os espectadores em atores e os ignorantes em intelectuais. Temos que reconhecer o saber em ação no ignorante e a atividade própria ao espectador. Todo espectador é já ator de sua história; todo ator, todo homem de ação, espectador da mesma história. (RANCIÈRE, 2019, p.21)
Sabemos que essa redistribuição de papéis se dará num corpo social amplo que compreende os artistas, os espectadores e os agentes diversos que se inserem no entremeio da cadeia complexa do mundo da arte. Qual será o lugar dos curadores, então, nessa partilha do sensível? A palavra “curador” vem do grego curare, cuja etimologia remete à ideia de “cuidar de”; e muito embora seja mais ou menos consensual a origem histórica da figura do curador enquanto guardião da arte na sua dimensão material e como comissário de exposições a partir do surgimento da cultura museal no século XVIII, a sua proeminência na contemporaneidade implica absorver uma multiplicidade de sentidos e atribuições que ultrapassam o entendimento clássico do que é “fazer curadoria”. Num mundo onde a reprodutibilidade técnica das imagens e o poder de alcance dos meios de comunicação atingem um patamar tão inimaginavelmente vertiginoso, o papel do curador parece ganhar cada vez mais centralidade no campo da arte.
É bastante comum a idealização do curador como alguém que apenas organiza exposições, media experiências de recepção artística e seleciona obras, estabelecendo narrativas fechadas em torno de teses pré-estabelecidas. Em contraponto a essa lógica linear, retomando a ideia do autor enquanto espectador e do curador enquanto autor/espectador, podemos rememorar a apoteótica instalação curada e montada pelo cineasta suíço Jean-Luc Godard em 2006 no Centre Pompidou de Paris, Voyage(s) en utopie, JLG, 1946-2006: à la recherche d’un theóreme perdu, onde Godard questionava, com a ironia que lhe é particular, o aspecto tradicionalista da exposição como método narrativo e a história da arte enquanto disciplina positivista, propondo uma nova arqueologia do cinema e das imagens a partir de uma montagem caótica em que a apreensão do espaço-tempo se configuraria mais como uma porta aberta ao mundo da imaginação do que como uma retórica pré-determinada.
A montagem de Voyage(s) en utopie, JLG, 1946-2006: à la recherche d’un theóreme perdu era caótica também porque Godard resolveu modificar a exposição várias vezes enquanto ainda estava em cartaz, dando a ela um caráter constante de trabalho em andamento e de simbiose entre passado, presente e futuro. Esse exercício curatorial anárquico implicava dar outras camadas de significação às imagens ali apresentadas, que não poderiam mais ser lidas como conjuntos de signos inequívocos, mas que, ao contrário, abriam-se para uma constelação de significados possíveis. Se fizermos um paralelo com as História(s) do Cinema (1988) ou mesmo com O livro de imagens (2018), filmes de longa-metragem do cineasta suíço, será possível compreender o método “godardiano” de pensar a experiência sensível da imagem através do seu esgarçamento poético, rearranjando-a como objeto mutante a partir do exercício plástico da montagem. Em ambos os casos, o autor está tentando propor novos pontos de inflexão para a história do cinema a partir da sua interseção com a realidade política do mundo no século XX e na contemporaneidade.
O caso da exposição montada por Jean-Luc Godard nos ensina que há, inegavelmente, uma camada de autoralidade em qualquer trabalho curatorial, onde o curador irá imprimir o seu traço idiossincrático em maior ou menor intensidade, mas também revela que a curadoria não é uma caixa de ferramentas nem um fim em si mesma, ela também pode configurar um processo aberto que se traduz em experiências vividas em comunidade. Como alguém que será pioneiro na atribuição de sentido e proposição de narrativas em torno das obras de arte (seja no formato de exposição, de pesquisa, programação cultural, etc.), o curador converte-se imediatamente em espectador do próprio trabalho, e cabe a ele absorver o entendimento de que não há posição de vantagem nessa partilha do sensível. O reconhecimento tácito desse embaralhamento de fronteiras irá desarmar dispositivos de poder que se expressam nas relações sociais que atravessam o mundo da arte.
O capítulo anterior buscou delinear uma certa ideia de autoralidade para trazê-la ao centro do contexto midiático atual, discutindo a questão do espectador contemporâneo de cinema e a sua relação com as obras e os autores. Foi colocado que, à exemplo do que escreveu Walter Benjamin (2015), a distância entre autor e público segue mais do que nunca para um inevitável estreitamento. A quebra das fronteiras que colocam o polo de produção em vantagem sobre o polo de recepção pressupõe também que novas modalidades de percepção possam ser inauguradas na experiência sensível da arte contemporânea, uma vez que a paisagem midiática atual, atravessada pelas camadas do digital, nos coloca radicalmente na condição de espectadores a todo tempo.
Essas histórias de fronteiras por transpor e da distribuição dos papéis por subverter confluem para a atualidade da arte contemporânea, na qual todas as competências artísticas específicas tendem a sair de seu domínio próprio e a trocar seus lugares e poderes. Hoje temos teatro mudo e dança falada; instalações e performances à guisa de obras plásticas; projeções ao vivo transformadas em ciclos de afrescos; fotografias tratadas como quadros vivos ou cenas históricas pintadas; escultura metamorfoseada em show multimídia. (RANCIÈRE, 2019, p.24)
Ora, essa hibridização entre diferentes competências artísticas reflete exatamente na condição atual do cinema, onde a especificidade do meio abre espaço para a enunciação generalizada. Elsaesser (2018, p.131) propôs uma “reontologização” do cinema na qual o seu dispositivo pudesse ser entendido e pensado por meio de uma ideia de presença, constituindo uma forma específica de estar no mundo que pode ser ativada a partir de espaços e tempos distintos, seja na sala tradicional, no espaço alternativo ou no museu. Michaud (2014, p.62), por sua vez, inferiu que a influência ideológica do cinema nas outras linguagens artísticas e a sua presença ubíqua no campo expandido, transcendendo seus elementos materiais basilares (tela, película, projeção, etc), poderia nos conduzir à noção de que qualquer forma de arte que produz efeitos de cruzamento espaço-temporal pode ser considerada cinema. Esse processo de hibridização e desterritorialização se expressa, na prática, na alta capacidade de penetração do cinema em lugares-comuns da vida cotidiana, ao que Gadreault e Marion (2016) subscreveram.
[...] já que as imagens em movimento se inscrevem sobre novos suportes, transitam por novas plataformas, exibem-se em novas telas, são mostradas em novos espaços, somos obrigados a constatar que o cinema prolifera e que, de agora em diante, ele está... em toda parte. (GADREAULT e MARION, 2016, p.14)
É exatamente nesse contexto multiforme que o curador de cinema emerge, como alguém cujas possibilidades de atuação multiplicam-se ao passo que acompanham as transformações internas e externas do próprio cinema, que segue nesse processo dinâmico de hibridização e desterritorialização. O espectador de cinema está em toda parte: ele está em casa com os seus gadgets de reprodução (que aliás o acompanham por todo lado), acessando as mais diversas plataformas nas mais variadas telas; na rua, onde a imagem animada converte-se em anúncio publicitário ou intervenção urbana; no museu, onde o cinema tem ganhado cada vez mais espaço de exposição; e, finalmente, na sala de projeção tradicional, local que ainda goza de certa centralidade enquanto modalidade de consumo do cinema. Nessa redistribuição de espaços e fronteiras, não caberá ao curador assumir a posição de figura tutelar ou de suposto saber superior, pois supõe-se desse mesmo espectador ubíquo, de antemão, uma autonomia que o fará agente da própria história.
O curador está nesse lugar de interstício: um lugar que não é propriamente o do artista nem tão somente do espectador. Aí residiria, então, uma das potências do seu trabalho, pois a própria natureza do seu ofício é híbrida e multifacetada, com vários pontos de partida possíveis. Atualmente o curador carrega consigo atribuições que já foram exclusivas do crítico; ele é pioneiro na atribuição de sentido das obras e também ajuda a (re)escrever a(s) história(s) da arte a partir da sua plataforma de trabalho. Além disso, enquanto agente provocador, ele poderá reatualizar as questões que irão mobilizar os campos da teoria e da prática artística. A curadoria, dessa forma, poderia ser encarada como um desdobramento híbrido da museologia com a crítica, mas jamais deveria ficar restrita a esses dois terrenos de atuação, uma vez que a sua influência tende a ultrapassar fronteiras normativas.
Ainda sobre esse espaço intersticial entre a produção e a recepção, autores como Hans Ulrich Obrist defendem que o trabalho do curador deve se dar numa ampla rede de colaboração com os artistas, mas que não pode ultrapassa-los, refutando assim a ideia de curadorias “criativas”. Para ele, “artistas e suas obras não devem ser usados para ilustrar uma proposta ou premissa curatorial à qual estão subordinados” (Obrist, 2014, p.47). Essa lógica, apesar de generosa na sua premissa, não se sustenta na prática exatamente porque é impossível selecionar, expor ou relacionar sem imprimir um discurso próprio sobre aquilo que está posto. A voz do curador não é a voz do artista. A sua voz é apenas mais uma voz que irá operar traduzindo as obras de arte na partilha do sensível, e isso não é pouca coisa. Obrist parte de uma falsa questão porque o curador “autoral” ou “criativo” não pode ultrapassar o artista em intenção, eles caminham lado a lado.
Uma vez estabelecido isso, sem confundir a voz do artista com a do curador, a marca de uma autoralidade idiossincrática em trabalhos de curadoria torna-se absolutamente incontornável. O simples gesto de selecionar, arranjar e relacionar obras, em si, pressupõe o atravessamento de um filtro subjetivo que jamais será neutro. Dessa forma, à exemplo do que fez Godard (ele mesmo sendo a representação do interstício entre o artista e o curador), o curador poderá operar como essa terceira força oblíqua que catalisa experiências no campo do sensível, sejam elas propostas no formato de uma exposição, de programação cultural, de pesquisa, enfim.
No campo particular do cinema, há uma linha de pensamento que poderia associar o trabalho de curadoria à montagem. A ideia do curador como montador é pertinente na medida em que mobiliza duas figuras que tem a importante função de apreciar as obras ainda em estado bruto, para que a partir daí possam remonta-las e reorienta-las nas suas dimensões de espaço e de tempo, adicionando novas camadas de significação que muitas vezes sequer haviam sido pensadas pelo artista, consolidando assim uma colaboração na qual a voz do curador/montador irá intervir diretamente na recepção do trabalho.
Entre as tipologias de montagem que enunciou ao longo da sua carreira enquanto realizador e teórico (duas atividades que se retroalimentam indiscriminadamente), Sergei Eisenstein propôs as célebres montagens de “atração” e “intelectual”. Ambas deveriam ter a capacidade, com o uso das ferramentas que lhe são próprias, de causar tipos específicos de reação na plateia. Na qualidade de pensador construtivista, Eisenstein não estava preocupado com a questão do realismo no cinema: pelo contrário, era importante deixar estabelecida, a partir do trabalho intelectual da montagem, a experiência opaca e mobilizadora de afetos dos filmes. A montagem de atrações, inspirada nas formas de entretenimento popular, buscava extrair esse afeto latente justapondo planos que pudessem, reunidos, causar o efeito pretendido pelo montador. A montagem intelectual, por outro lado, opera num nível mais complexo, mobilizando aspectos cognitivos do espectador ao passo que apresenta conceitos que lhe possibilitam seguir numa linha de raciocínio específica.
O cruzamento entre as ferramentas de montagem de Eisenstein com a curadoria de arte pode se dar com a finalidade de estabelecer narrativas lineares das imagens como, por exemplo, no caso da exposição Road do Victory, montada no MoMa por Hebert Bayer e Edward Steichen em 1942. Na exposição, um punhado de fotografias superpostas em blocos temáticos encenavam de forma progressiva e sistemática a entrada dos Estados Unidos na segunda guerra mundial. Os curadores apostavam na ideia de que na exposição, diferente da sala de cinema, o espectador poderia estabelecer o seu próprio ritmo, avançando e recuando ao passo que é instigado pela latência do conteúdo imagético que o cerca. Dessa forma, inverteria-se a lógica clássica da recepção fílmica onde o público fica parado e são as imagens que avançam.
É lógico que o pragmatismo construtivista a partir do qual foram elaborados os conceitos de montagem de Eisenstein podem nos levar a aplicações vulgarmente superficiais na curadoria, esgotando as suas fórmulas e correndo o risco de transformá-los em caixas de ferramentas que operacionalizariam um trabalho que não deveria ser mecânico. Ainda assim, pensar no curador enquanto montador que mobiliza afetos e sugere conceitos/ideias faz-se pertinente na contemporaneidade, compreendendo que ele terá a função de rearranjar as obras de arte no espaço e no tempo como se fossem planos de um filme, mobilizando o corpo háptico do espectador e atribuindo novas camadas de significação que poderão ser experimentadas a partir das potencialidades da recepção artística.
O trabalho de montagem do curador de cinema pode ser bastante complexo quando levamos em conta os deslocamentos da imagem animada e as suas múltiplas possibilidades de representação nos espaços museal, tradicional e alternativo: projetada e exposta de forma espacializada, subvertendo as convenções clássicas da perspectiva renascentista; estabelecendo interações entre a imagem projetada e os seus suportes materiais; incorporada a obras provenientes de outras linguagens artísticas; enfim. Além da questão da distribuição das imagens no espaço expositivo, há também a questão da economia do tempo, que é diferente na sala de cinema tradicional e no contexto de uma exposição. Se retomarmos 24 hours psycho (1993) de Douglas Gordon ou mesmo The Clock (2010) de Cristian Marclay, teremos os exemplos de duas instalações de cinema que propõem experiências de tempo tão radicalmente dilatadas que torna-se impossível para o espectador apreende-las em sua totalidade de uma só vez, já que em ambos os casos temos projeções que se estendem por 24 horas de duração. Saber jogar com esses inevitáveis sobressaltos temporais e interrupções fará parte do trabalho do artista/curador, que poderá estabelecer na sua prática de montagem um tipo de experiência que conjugará as potencialidades do espaço com a economia do tempo que precisará ser empregada na recepção das obras expostas.
O caso de The Clock é paradigmático nesse sentido, pois a instalação decorre dentro do simulacro de uma sala de cinema, com ausência de luz externa e auxílio de poltronas em formato de sofás, buscando atingir um estado ideal de submotricidade e hiper percepção. Diferente de 24 hours psycho, que é apresentado em espaço aberto no interior da galeria e cuja montagem lança mão de projeções simultâneas, The Clock é apresentado como um filme de longa-metragem tradicional, apesar das longas 24 horas de duração. O filme reúne fragmentos de cenas de inúmeras obras do cinema e da televisão que fazem alusão a relógios ou às horas do dia. Dessa forma, a partir da engenharia da montagem, o horário apresentado no universo diegético da instalação sempre coincide com as horas do mundo real, fabricando uma diegese expandida na qual o tempo do espectador irá se confundir com o tempo da obra a todo momento.
A montagem de Cristian Marclay, sendo ele também o amálgama do artista/curador, será a chave desse trabalho, uma vez que trata-se de uma obra realizada integralmente com imagens de arquivo. O montador, nesse caso, não será apenas aquele que imprime ritmo às imagens, fabrica narrativas e mobiliza afetos a partir da sua justaposição em sequência, ele também terá o papel importante de reconfigurar o sentido dessas mesmas imagens a partir da sua recontextualização histórica, agora que elas estão justapostas em mosaicos multiformes que insinuam novas possibilidades de leitura. Tomar de empréstimo as imagens de terceiros para traduzi-las num trabalho autoral é parte da atividade do montador e poderia servir como metáfora para o ofício do curador, que também elabora discursos autônomos tornando visível a obra de outrem. Ao selecionar e relacionar os fragmentos que irão compor o tecido de The Clock, Marclay incorre de um gesto essencialmente curatorial.
O esforço de pôr em diálogo (ou em confronto) as imagens dos outros, construindo pontos de inflexão a partir dos quais novas narrativas poderão emergir, torna-se central na prática do curador/montador. Esse desafio de montagem ganhou proporções homéricas na exposição Pedro Costa Companhia, decorrida em Serralves em 2018. Curada pelo próprio Pedro Costa, com coordenação de Filipa Loureiro e Marta Almeida, arquitetura de José Neves e obras de inúmeros artistas, dentre os quais destacam-se Rui Chafes, Paulo Nozolino, Danièlle Huillet, Jean-Marie Straub, Chantal Akerman e Jean-Luc Godard, a exposição apresentou um panorama detalhado da obra de Costa ao passo que a filiou indiscriminadamente a uma constelação de outros trabalhos que lhe passam ao largo e lhe fazem companhia.
Antes de mais nada, faz-se necessário destacar que a nível expográfico a exposição buscou interferir no espaço arquitetônico do museu para que ele pudesse inscrever as imagens animadas numa configuração que as realçassem no campo visível do espectador, entendendo que além das projeções de cinema, a exposição também apresentou fotografias, pinturas e esculturas. Assim, o museu pintou-se de preto, como que na intenção de tensionar as fronteiras entre as convenções da black box e do white cube, apresentando as projeções dos filmes tanto em espaços semi-abertos como fechados. A escolha pelas paredes pretas também realçam um aspecto subjacente à exposição, que propunha uma atmosfera sombria que privilegiava o gesto da descoberta das superfícies e texturas das imagens como se fossem aparições não localizadas no espaço e no tempo. Essa construção de um espaço de visionamento ideal irá configurar-se também como um gesto acurado de montagem que mobilizará afetivamente o corpo háptico do espectador na experiência da recepção artística.
Companhia é ambicioso no que se refere à seleção e apresentação das obras que buscam traçar essa relação íntima com o trabalho de Costa. Indo de Charles Chaplin, Fritz Lang e John Ford até Chantal Akerman, a exposição se expressa num enorme esforço de conjugar trabalhos bastante distintos em torno de uma narrativa comum que conflui para a revisão da filmografia do realizador português. A força dos humilhados, as marcas da herança colonial, as vidas dos imigrantes cabo-verdianos em Portugal, o bairro fantasma das Fontainhas, a revisão crítica da história e as impossibilidades que ela impõe no corpo do oprimidos, enfim, os homens e as mulheres comuns cujas existências são cauterizadas pela marcha do progresso são alguns dos temas que atravessam a obra de Pedro Costa e também servem como pontos de entrada para que esse diálogo entre diferentes autores seja travado.
Além de dispor de largas projeções simultâneas, a exposição também apresentou algumas dezenas de aparelhos televisores que expuseram os filmes em telas miniaturadas. Reorganizar trabalhos de forças tão distintas no espaço e tentar elaborar uma narrativa comum em torno deles não é uma tarefa de montagem fácil, pois supõe estabelecer novos contextos a imagens cuja significação já está dada e consolidada no imaginário do espectador. Os inúmeros filmes exibidos compõem uma constelação de obras que influenciaram Costa, sejam elas de amigos vivos ou mortos.
É nesse sentido da grandiloquência na fabricação de um ambicioso tecido vivo e multiforme que Pedro Costa Companhia encontra a sua maior fragilidade, contudo, pois na prática, o que se percebe muitas vezes é uma tendência de “acessorização” dos filmes a partir da sua exposição no suporte televisual, correndo o risco de fetichiza-los em função do seu status prévio. Justapor obras canónicas nesse método overwhelming tende a resultar numa canibalização dos filmes, e não na retroalimentação mútua originalmente planejada. Ainda que seja possível localizar a linha de pensamento curatorial e o mote narrativo no qual cada um dessas obras se insere no contexto geral da exposição, o sentimento de que várias dessas imagens são reféns de uma intenção artística na qual não se encaixam parece atravessá-las amplamente.
Pedro Costa é um realizador de cinema que converteu-se em curador/montador, deixando estabelecida a sua marca autoral ao conjugar e expor trabalhos que não são seus. Esse rigor próprio da montagem pode se expressar em curadorias realizadas no contexto de exposições e instalações, traduzindo-se no esforço de redistribuir as imagens animadas no espaço, ativando novas modalidades de percepção do espectador corporificado, mas também pode se dar ricamente em locais tradicionais como na sala de cinema. A lição deixada por Jacques Rancière quando inferiu que não há ponto de partida privilegiado no campo da arte pode nos levar à compreensão de que, seguindo a mesma lógica, também não há espaço privilegiado para a partilha do sensível. Nesse sentido, não serão apenas o museu ou o espaço alternativo que irão possibilitar experiências que podem mobilizar criticamente o corpo do espectador, já que esse mesmo espectador é emancipado o suficiente para expressar a sua autonomia ao transitar livremente por formatos e territórios distintos. Não há modalidade de percepção superior na apreensão das imagens cinematográficas. Ao invés de dinamitar os locais tradicionais, os espaços e formatos alternativos de exposição do cinema deveriam nos ajudar a compreendê-los melhor e a demarcar a o seu local de integração e alteridade. Quando trata-se de cinema, o museu e o espaço alternativo irão travar diálogos (mesmo quando na forma de embates) com a black box o tempo inteiro, tensionando as fronteiras entre as suas convenções tão diferentes e propondo novos pontos de inflexão a partir dos quais a experiência de recepção possa ser constantemente renovada.
excerto de Locais do cinema: espectatorialidade e curadoria de Pedro Azevedo no âmbito do mestrado em estudos de arte pela Faculdade de Belas Artes de Universidade do Porto sob orientação do Prof. Dr. Tiago Assis.
Porto, dezembro de 2020